Será que realmente precisamos de um diagnóstico de altas habilidades?
Recentemente, ouvi alguns comentários que se referiam ao termo “altas habilidades” como um “diagnóstico” baseado em resultados de testes de QI. Segundo os comentaristas, o diagnóstico de altas habilidades faria sentido, pois as crianças que sofrem do privilégio de desempenharem muito bem em testes de QI também apresentariam outras características que as levariam a ser mal compreendidas pela sociedade.
Confesso que tive uma certa dificuldade de descobrir quais seriam essas tais características dos gênios incompreendidos. Encontrei, nessa matéria do G1, que as crianças com altas habilidades ficam entediadas com tarefas que lhes parecem banais e que, por isso, tenderiam a ser irritadiças e pouco obedientes. E, nesse artigo de revisão, que essas crianças sofreriam por pensamentos não conformistas.
Nesses textos, não encontrei descrições claras que me convencessem de um sofrimento que possa ser justificado por altas habilidades, nem menções a estudos convincentes que comprovem que os altamente capazes sofram mais do que seus pares. Não duvido, claro, que existam crianças que sofram. No entanto, dizer que isso ocorre porque essas crianças são altamente capazes — e não por qualquer outro motivo — me pareceu injustificado.

Mas, a essa altura, os comentários, a matéria e o artigo já tinham atiçado minha curiosidade e me levado a descobrir que existe uma tendência alimentada pelas redes sociais sobre as tais altas habilidades e sua suposta relação com comportamentos em crianças e adultos, que os levariam a ser excluídos socialmente por quem não compreende o sofrimento dos muito inteligentes. No Instagram, essa tendência é representada em perfis com mais de 45 mil seguidores.
Antes de continuar, valem aqui alguns esclarecimentos.
A definição baseada exclusivamente no resultado de teste de QI não é a única possível para altas habilidades. Existem definições que envolvem tanto resultados de QI extraordinários (não necessariamente acima de um ponto de corte pré-determinado) quanto o desenvolvimento de alguma habilidade — de forma isolada ou combinada com outras — muito antes do previsto para uma determinada faixa etária, como aprender a ler e escrever ou tocar piano aos 3 anos de idade, ou fazer cálculos aritméticos complexos aos 6.
Existe uma grande sobreposição entre os termos "altas habilidades" e "superdotação". Enquanto alguns consideram que os dois nomes podem ser usados de forma intercambiável, outros defendem que há uma diferença entre altas habilidades, que seriam talentos aprendidos, e a superdotação, entendida como um potencial inato, de origem genética.
Dado que não existem testes genéticos para superdotação e que é, portanto, impossível separar o que seria inato do que seria adquirido, essa diferença não parece ter relevância prática.
Por exemplo, é impossível diferenciar se aprender a ler aos 3 anos de idade é resultado de viver em uma casa com muitos livros e com pessoas muito diligentes no ensino da leitura ou se é por um talento inato para as palavras. Além disso, o mais provável é que seja uma mistura das duas coisas, sendo o componente genético sozinho incapaz de determinar o resultado da leitura precoce. Tanto que, mesmo os mais recentes avanços na pesquisa de variantes genéticas que tenham algum impacto na inteligência, não conseguem explicar nem 10% da variação de resultados de testes de inteligência observada na população.
Com esses pontos esclarecidos, podemos voltar às minhas buscas.
Na tentativa de compreender como as tais altas habilidades poderiam ser uma vulnerabilidade, revisitei uma história com a qual tive contato muito antes. Uma história contada pelo biólogo evolucionista Stephen Jay Gould numa obra clássica chamada A falsa medida do homem.
Entre muitas outras histórias, Gould conta a trajetória do psicólogo Lewis Terman — um eugenista obcecado pela inteligência (inclusive a sua própria), que carregava o ressentimento de ter sido ridicularizado por suas inabilidades nas aulas de educação física. Com base em sua própria experiência, ele concluiu que seria importante valorizar aqueles que fossem muito inteligentes, para que não sofressem como ele. Afinal, ser o último a ser escolhido para compor o time de futebol é realmente humilhante.
Mais importante do que o sofrimento individual, Terman acreditava — como muitos até hoje — que seria um erro desperdiçar o potencial dos pequenos gênios. Isso significava incentivar investimentos na formação dos mais inteligentes da espécie para que não ficassem entediados e subaproveitados nas escolas comuns. Uma empreitada louvável e de grande relevância social, ele supunha.
Em 1910, Terman foi contratado como professor na Universidade de Stanford, na Califórnia, após alguns anos atuando como diretor de escolas e professor de pedagogia. Nesse trabalho na universidade, ele recebeu os primeiros testes que mediam a inteligência (hoje chamados de testes de QI), desenvolvidos pelo psicólogo francês Alfred Binet.
Quando Binet inventou seu teste ele estava interessado em reconhecer crianças com dificuldades escolares que precisariam de auxílio adicional para cumprir as expectativas acadêmicas. Em outras palavras, ele não queria identificar os já privilegiados do ponto de vista da resolução de problemas ou capacidade acadêmica. Seu foco era entender quais crianças não conseguiriam atingir metas de aprendizado sem grande apoio ou tempo extra.
No teste de Binet, Terman viu outra oportunidade: a de reconhecer as crianças muito inteligentes. Para isso, fez uma série de adições ao teste original e desenvolveu o chamado teste de Stanford-Binet, em homenagem à instituição onde trabalhava. Com essa nova versão do teste de QI em mãos — além de outros que havia criado para seleção de recrutas no exército —, entre 1921 e 1928, ele selecionou 1.528 crianças (856 meninos e 672 meninas), nascidas entre 1900 e 1925, em sua maioria brancas e de classe média ou alta.
Para Terman, essas crianças supostamente geniais mereciam toda sua atenção e cuidados. Ele interferiu tanto na vida dessas pessoas que ficou impossível dizer qual teria sido a trajetória delas caso não tivessem entrado nesse seleto grupo de gênios. Cartas de recomendação, interferências em processos de adoção e encaminhamentos escolares foram algumas de suas atuações.
O curioso é que, mesmo com toda essa ajuda extra, o acompanhamento desses "gênios de Terman" evidenciou que era um grupo de pessoas muito diferentes entre si — e que definitivamente não estavam fadadas a uma vida brilhante. Muitas tiveram destinos triviais, semelhantes aos de seus colegas não considerados geniais: uso de drogas, mortes precoces, carreiras nada intelectuais, como carpinteiro ou limpador de piscina.
É também verdade que alguns dos selecionados tiveram carreiras acadêmicas robustas. Isso motivou Melita Oden, aluna de Terman, a comparar os 100 mais bem-sucedidos com os 100 menos bem-sucedidos. Oden descobriu que os resultados dos testes de inteligência eram praticamente idênticos entre os dois grupos. O que mais os diferenciava era o encorajamento precoce por parte da família, além de características pessoais como persistência e autoconfiança.
O acompanhamento das trajetórias desses indivíduos comprovou que o desempenho em testes de inteligência não determina escolhas futuras — mesmo com auxílio extra —, nem garante sucesso ou relevância histórica.
Terman, no entanto, nunca questionou a importância da inteligência. Ele acreditava que era um traço objetivo e mensurável que definia quem eram as “melhores” pessoas da sociedade. Até 1937, divulgava abertamente que a inteligência era inata, hereditária, e que deveríamos investir apenas nos mais inteligentes, enquanto os considerados menos inteligentes deveriam ser institucionalizados até a morte, para não atrapalharem os demais.
A partir de 1937, sem pedir desculpas ou demonstrar arrependimento, Terman mudou a forma de se referir à inteligência: deixou de considerá-la inata e passou a tratá-la como algo aprendido e moldado pelo ambiente. Gould argumenta que essa mudança decorreu da queda na aceitação pública da eugenia — e que Terman nunca abandonou suas ideias centrais, pois continuou defendendo os mesmos privilégios para os “inteligentes” e a exclusão dos “menos capazes”.
Gould recuperou essa história em A falsa medida do homem para desbancar as bases da eugenia, revelando como Terman e outros usaram a ideia de inteligência para sustentar pressupostos preconceituosos e racistas.
Segundo os eugenistas, pessoas de classes mais altas iam melhor em testes de inteligência porque herdavam mais inteligência, enquanto a pobreza seria consequência de uma herança genética “deficiente”. Ou seja, todos estariam no lugar que “merecem”, e desigualdades sociais não teriam nada a ver com isso.
Contudo, os resultados dos testes de inteligência são social e culturalmente influenciados. Isso significa que o que quer que esses testes meçam, não é uma inteligência inata que antecede as condições sociais. Além disso, as escolhas do que incluir nos testes afetam diretamente quem tem mais ou menos chance de obter bons resultados. Terman, por exemplo, adaptou o teste de Stanford-Binet segundo sua própria concepção do que era inteligência — favorecendo quem pensava como ele —, o que explica a sobrerrepresentação de brancos de classe média e alta entre os selecionados.
Retomando Gould, me pergunto se faz sentido enxergar supostas altas habilidades como um sinal de vulnerabilidade.
Se há algo a aprender com Terman, é que a ideia de inteligência — seja lá o que for — não ajuda a prever o destino de alguém. Pessoas mais ou menos inteligentes podem ter vidas boas ou ruins, serem mais ou menos acadêmicas, relevantes, habilidosas socialmente, amadas e queridas. Tampouco a inteligência determina sofrimento.
Quem fala em altas habilidades nas redes sociais, no entanto, defende que crianças com esse “diagnóstico” devem receber atenção especial e auxílios adicionais — e que os maiores desafios devem ser oferecidos a elas. Isso soa como privilegiar ainda mais os já privilegiados.
Entendo que estimular que as escolas sejam espaços ricos em oportunidades e desafios que as crianças possam escolher abraçar faz todo o sentido. Todavia, não acredito que o que deva justificar tais iniciativas seja a presença de crianças com altas habilidades. Até porque, permitir que todas as crianças escolham tarefas mais desafiadoras é muito diferente de selecionar algumas para receber mais oportunidades.
Soa muito mais democrático permitir a escolha do que realizar uma seleção. Além disso, se a educação precisa melhorar, que melhore para todos — não apenas para um grupo classificado como altamente hábil. Afinal, essas crianças não são melhores nem piores do que todas as demais.
Muito Além do Cérebro é um projeto de comunicação científica para que todos possam acompanhar as discussões que acontecem nos bastidores da psiquiatria e das neurociências. Acredito que todas as pessoas devem poder, se quiserem, acompanhar as discordâncias entre profissionais de saúde mental.
Isso não deve enfraquecer a confiança na medicina e nas ciências.
Pelo contrário.
Conhecer o que faz dos médicos e cientistas também humanos pode nos ajudar a entender e criticar as ciências, além de permitir que qualquer pessoa possa participar das decisões quanto ao que investigar e como aplicar os resultados encontrados para melhorar a nossa tão cara humanidade.
Se você se interessa por saúde mental, psiquiatria, psicologia, ciências, ou é só curioso, assine gratuitamente a newsletter para receber este e muitos outros conteúdos.






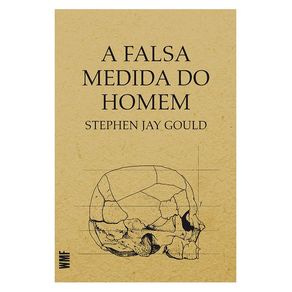
Excelente começo de discussão, Juliana. Penso, por ser psi escolar/educacional crítica e atuar há mais de 10 anos com anos iniciais que temos algumas variáveis desse problema. A professora precarizada que não dá conta sozinha de uma sala de aula com 27 crianças que se alfabetizaram na pandemia e que agora estão no 2º ano do fund I com suas pluralidades e demandas acadêmicas E sociais (que faz parte de todo processo de aprendizado). Essa trabalhadora precisa “dar conta” do que falta, do que excede, do que nem se sabe que falta/excede. Essa professora inserida na cultura aprende que algo se justifica fora da sua sala de aula (porque a indústria da medicalização da vida faz muito bem sua publicidade e propaganda). A outra ponta do laço social, família, todo mundo aqui já consegue imaginar. Um laço esgarçado. O outro nó, o mais crítico, que regula todo o resto: sistema educacional colono-capitalista exige, esquadrinha, controla e continua homogeinizante e feito para o “sujeito ideal”: branco, sem deficiência, homem, atento, obediente, domesticado… Se não tivéssemos a variável ESCOLA PRODUTIVA PARA O CAPITAL reduziria drasticamente o boom de diagnósticos e transtornos do desenvolvimento e da aprendizagem. Ano passado me dei conta que nesses 10 anos nunca tinha recebido tantos relatórios de altas habilidades/superdotação. Fenômeno preocupante e sintomático. Com o coletivo fraturado pelas metas, pelas provas, pelos conteúdos, esse professor(a) precisa literalmente escolher para onde vai sua atenção e cuidado. Seu texto é importantíssimo pra gente continuar pensando, criando saídas, desmontando a hegemonia.
Artigo necessário, pontuando e colocando os pingos nos issss. Se for para melhorar a educação que melhore para todos sem supervalorização. 🧠✅